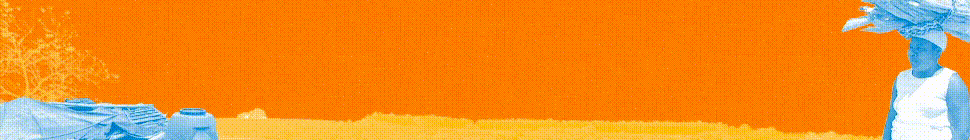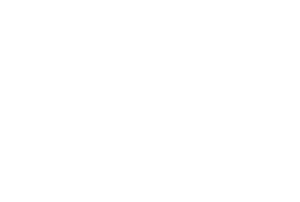Kenahe: de estudante a cacique da Comunidade de Remanescentes Mongoyós de Vitória da Conquista
Por Afonso Ribas - 15 de maio de 2023
Aos 42 anos, Kenahe Mongoyó, que veio da zona rural em busca do sonho de estudar, enfrenta o desafio de liderar a segunda comunidade oficialmente reconhecida como indígena pela FUNAI no município.

Estudar é um ato revolucionário para a líder indígena Kenahe Mongoyó, que, aos 42 anos, cursa Ciências Biológicas na Universidade Federal da Bahia – Campus Anísio Teixeira. Desde muito pequena, quando ainda morava na zona rural de Vitória da Conquista, ouvia sua mãe expressar o quanto gostaria que seus filhos frequentassem a escola, mesmo que isso significasse perder a chance de vê-los crescer de perto.
O valor que Dona Antônia atribuía à educação vinha justamente da falta que “o estudo” fizera na sua vida. “Ela fala que é muito ruim não saber ler. Naquela época, ela não tinha trabalho e enfrentava muitas dificuldades financeiras. Então, assim que crescesse um pouquinho, a gente tinha que vir para a cidade”, conta Kenahe, que possui quatro irmãs, duas delas somente por parte de pai. Teve irmãos também, mas eles faleceram.
“Às vezes não tinha nada naquela seca, quando não tinha trabalho. A gente falava: ‘vai na roça procurar alguma coisa’. Aí às vezes achava uma raiz de mandioca, ela [sua mãe] arrancava, ralava e fazia beiju pra gente comer. A gente passava dois a três dias comendo beiju. Então, sempre entendemos que, só através da educação, a pessoa pode ter a condição de ter uma vida mais digna”, lembra a estudante.
Até os 13 anos, Kenahe viveu com a família no povoado do Oiteiro, numa região conhecida como Lagoa de Maria Clemência, certificada como quilombola pela Fundação Palmares. O nome do lugar, no entanto, homenageia uma caçadora indígena. “Ela caçava em toda aquela região. E como ela andava na mata, e naquela época tinha uma lagoa, que ela descobriu, aí colocou esse nome. E o Oiteiro é como se fosse um bairro da Lagoa de Maria Clemência”, explica.
Mesmo não morando mais lá, juntamente com a sua mãe, o povoado é para Kenahe o seu “paraíso”, revela com a voz embargada de quem não consegue esconder a saudade que sente. “Existia dificuldades, mas eu era muito feliz, muito feliz, assim, principalmente de amor. Amor do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos”.
Seu Manoel morreu há cerca de seis anos. “Num olhar o meu pai me conhecia, ele sabia se eu estava bem ou se eu não estava. E a minha mãe é aquela mãezona durona que, quando precisa, puxa a orelha. E também sou muito feliz em tê-la e poder ajudar a cuidar dela, embora eu vá lá muito pouco, por conta da faculdade e da correria. Mas, nas férias eu sempre tiro uns quinze dias e falo: ‘vou passar no meu paraíso”, acrescenta.
Na zona rural de Conquista, Kenahe cursou o ensino básico regular somente até a segunda série. Estudou na Escola Municipal Jorge Amado e na Escola Municipal Teófilo Lemos, onde iniciou a alfabetização. Mas ambas instituições foram desativadas, pois, segundo a Prefeitura do município, “tinha poucos alunos”, argumento apresentado como justificativa à comunidade para a paralisação das atividades.
De acordo com Kenahe, ainda era preciso esperar até os 6 anos para poder iniciar os estudos. “Começávamos a aprender muito tarde. Alguns de meus primos sequer aprenderam a ler. Pra mim também foi muito difícil pra conseguir, muito difícil mesmo. Foi muita insistência e muita luta”, diz.
A migração para a cidade
Além de se afastar da família e de sua comunidade para realizar o desejo de continuar estudando, a mudança de Kenahe para a zona urbana de Vitória da Conquista também significou o início precoce de uma vida adulta para alguém que tinha acabado de chegar à adolescência. “A primeira vez na minha vida que eu estou tendo a oportunidade de só estudar é hoje na universidade, porque eu sempre tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo”, afirma.
Nos três primeiros anos em que morou na cidade, estudar sequer foi possível, na verdade. Foi recebida “em casa de família” para atuar como babá. E como o local de trabalho era o mesmo em que morava, só não estava em horário de expediente quando podia dormir.
“Então, eu tinha que estar [em tempo] integral. Não tinha como estudar. Depois de três anos [nesse trabalho], eu falei: ‘eu vou sair porque o meu objetivo era vir pra cá estudar’. Aí eu saí e consegui arrumar um outro no qual já foi conversado que eu iria estudar à noite. Nesse, eu trabalhei por uns cinco anos, depois saí, fui pra outro, tudo em casa de família”, relembra.
Realizou os mais diferentes tipos de serviços domésticos, atuando não apenas como babá, mas também como faxineira e cozinheira, por exemplo. E entre uma mudança de trabalho e outra, conseguiu concluir o ensino fundamental e, logo depois, o ensino médio. Na cidade, estudou na Escola de Aplicação Maria do Carmo Vieira de Melo, na Escola Municipal Carlos Santana e no antigo Colégio Estadual Adélia Teixeira, sempre no período noturno, na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Não era o modelo de ensino com o qual Kenahe sonhava, mas foi o único que lhe possibilitou retomar os estudos. “Eu tive que fazer aceleração. Eu fiz terceira e quarta série juntas, depois quinta e sexta, sétima e oitava, depois primeiro ano, e então segundo e terceiro juntos. Com isso, eu concluí o ensino médio em dois anos. Então, ficou muito deficitária essa questão da educação pra mim”, desabafa.
Mas Kenahe terminou o ensino médio com duas convicções. “Eu falei pra mim mesma que não queria mais trabalhar em casa de família, porque foi muito difícil. Além disso, tive a concepção de que eu queria fazer uma faculdade”, conta. O primeiro objetivo foi rapidamente alcançado.

Após finalizar os estudos no Colégio Estadual Adélia Teixeira, Kenahe conseguiu trabalho em uma padaria. Porém, tinha que ouvir calada o então patrão dizer que ela “não sabia fazer nada”. Permaneceu nesse emprego por sete meses. Depois, migrou para outro no ramo do comércio, mas acabou voltando a trabalhar, posteriormente, como empregada doméstica.
Nessa época, ela havia conseguido alugar uma kitnet, onde passou a morar. E assim que teve a oportunidade, voltou a trabalhar no comércio. A última função que exerceu antes de ingressar na universidade foi o cargo de operadora de caixa. E a essa altura de sua vida, já tinha adquirido problemas como bursite e tendinite. Precisou fazer duas cirurgias na mão.
“Quando eu adoeci, teve um dia que a minha patroa falou assim pra mim: ‘olha, você está doente porque você esculhambou o seu braço passando pano no chão’. Aí eu falei: ‘como assim, passando pano no chão?’. Era porque a maior parte do pessoal que eu trabalhei era tão rico que eu tinha que passar o pano no chão com flanelinha, de tão chique que o chão era”, recorda.
Não seria exagero, portanto, dizer que o ingresso de Kenahe na universidade e a possibilidade de se dedicar integralmente aos estudos representou o fim de um longo período de exploração e abuso da sua força de trabalho. Mas o caráter revolucionário da educação superior em sua vida foi muito além disso. Representou também um reencontro com suas origens e a reafirmação de sua identidade étnica.
A luta para ingressar na universidade
Com o objetivo de ingressar na universidade em mente, tão logo concluiu o ensino médio, Kenahe iniciou um cursinho pré-vestibular voltado para estudantes oriundos de comunidades quilombolas, como a Lagoa de Maria Clemência. Foi através do curso que descobriu, por indicação de um professor, que poderia se candidatar a uma das vagas da UFBA reservadas para pessoas indígenas aldeadas, quilombolas, trans e refugiados, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).
A condição de quilombola e a de aldeado, nesse caso, precisaria ser comprovada mediante certificado da Fundação Cultural Palmares e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), respectivamente. Candidatos quilombolas deveriam ainda comprovar seu endereço por meio de documento fornecido pela Associação dos Quilombos Remanescentes que representa sua comunidade. Já os concorrentes indígenas precisariam apresentar não apenas uma declaração da FUNAI, mas também um documento fornecido pelo cacique da aldeia da qual faz parte.
Kenahe, no entanto, não tinha o reconhecimento oficial enquanto indígena nem fazia parte de uma aldeia de Vitória da Conquista registrada junto à FUNAI. Seu vínculo era com uma comunidade reconhecida como quilombo, onde também viviam remanescentes dos povos originários da região, como ela e sua família, que, entretanto, não estavam organizados enquanto aldeia indígena, sobretudo pela falta de informação e apoio do Poder Público.
“Eu sempre soube que sou indígena, mas até aquele momento, nunca tive como provar”, afirma Kenahe. Por isso, na época em que estava se preparando para concorrer a uma vaga na universidade, ela foi orientada a se candidatar a uma das cotas reservadas para quilombolas. Mas após o primeiro ano do cursinho pré-vestibular, não obteve, porém, a nota necessária no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para conseguir a aprovação na UFBA. Não desistiu.

Na segunda tentativa, a estudante decidiu fazer uma escolha estratégica para conseguir a chance de ingressar na universidade. “Eu falei: ‘este ano vou fazer o seguinte: vou olhar o meu score [pontuação] e vou selecionar a opção de curso em que eu ficar com a maior nota’. Fui testando o meu score pra ver em qual curso eu ficava numa posição melhor, e foi Ciências Biológicas. Quando saiu o resultado, tomei um susto. Fui conferir meu RG e meu CPF pra ver se estava tudo certinho. Aí eu falei: ‘eu passei!’. Fiquei super feliz, muito feliz”, relembra com um sorriso no rosto que comprova essa felicidade.
Nem mesmo a notícia que recebeu posteriormente, da coordenação do cursinho pré-vestibular, foi capaz de acabar com a sua alegria. “Quando teve a reunião dos quilombolas [aprovados] que eu fui pra participar, o coordenador me chamou e falou: ‘você não vai conseguir fazer a faculdade’. Então, eu perguntei: ‘por quê?’ Ele falou assim: ‘porque você colocou sua opção como indígena e era pra ter colocado quilombola. Então não vai ter como’. Aí eu falei: ‘mas eu estou muito feliz, porque eu passei. Isso é o que importa”, conta Kenahe.
Ao se candidatar para a vaga na modalidade de cotas, instintivamente, Kenahe se identificou como indígena. Mas ela só teria como comprovar o reconhecimento enquanto quilombola, por ser oriunda da Lagoa de Maria Clemência e integrante da associação de quilombos que representa a comunidade. Afinal, ela não era aldeada nem tinha sua etnia reconhecida pelo órgão competente. Dessa forma, não poderia se inscrever como indígena, pois, ainda que fosse aprovada, sua candidatura não se adequaria aos critérios estabelecidos pela UFBA.
Além disso, posteriormente, ela descobriu que, mesmo que tivesse se inscrito para uma das vagas destinadas a quilombolas, conforme havia sido orientada, não teria passado na seleção. “Só que aí, eu acredito tanto que Deus queria que eu estivesse lá na universidade que, na época de fazer a inscrição, Ele fez eu colocar indígena, porque, como quilombola, eu ficaria em quinto lugar, mas só tinha quatro vagas. E como indígena eu era a única. Então, como indígena, eu entraria, e como quilombola não. Tinha quatro pessoas na minha frente”, relata.
Cerca de uma semana depois de ser informada que não seria possível se matricular na UFBA, o coordenador do cursinho a procurou e lhe disse que havia uma comunidade indígena que reunia pessoas reconhecidas pela FUNAI como mongoyós, uma das três etnias dos povos originários do chamado Sertão da Ressaca, nome atribuído à região onde hoje está localizada Vitória da Conquista.
Além de saber da existência da Aldeia Reserva Sol Nascente, que até então era a única registrada junto à FUNAI em Conquista, Kenahe descobriu ainda que algumas de suas sobrinhas e suas duas irmãs por parte de pai faziam parte da comunidade. Era a conexão que precisava para conseguir entrar em contato com o cacique responsável por liderá-la e, então, se integrar ao grupo, que a recebeu prontamente.
“Através da comunidade, realmente, reconheceram que eu sou indígena. E aí, entraram em contato com a FUNAI, que me forneceu o documento [comprovando a condição de aldeada], e eu fui pra universidade”, resume. Foi a concretização de um sonho e a validação de uma certeza que ela sempre teve, mas não sabia como provar.
“Eu sou indígena!”
“Sempre tive a consciência de que era indígena, inclusive, quando eu era criança, todo mundo falava, até pelas características marcantes, pelo meu fenótipo. Porém, eu sempre me perguntava: como provar? Eu não sabia. E aí, a partir do momento que eu conheci a comunidade, foi que eu vim saber. E hoje, através da autodeclaração, tenho o privilégio de dizer: ‘eu sou indígena!”, afirma, com orgulho.
O reconhecimento da sua identidade étnica lhe possibilitou ainda a chance de conhecer e entender melhor as suas origens e a cultura de seu povo. “As minhas tias, por exemplo, nunca ligaram de ir no salão, vestem roupas totalmente coloridas, e elas se sentem bem, se sentem felizes. Embora a sociedade imponha que você tem que estar no salão, tem que estar com a unha feita, com o cabelo feito, na cultura do meu povo não tem muito isso”, destaca.
“Hoje eu sei que o costume da minha região é indígena. A forma de plantar, de colher, de distribuir os mantimentos. Geralmente, quando chove tem aquela cultura de repartirem as sementes, porque nem todo mundo tem todas. Quando a roça produz, se divide o alimento também, e até hoje tem muito esse costume por lá”, complementa.
Detalhes da sua vida cotidiana na infância ganharam significados até então escondidos pelo etnocídio do qual os povos originários de Vitória da Conquista foram vítimas a partir da chegada dos brancos invasores nesse território, em meados do século 18.
Esse processo, sobre o qual pouco ainda se fala, pode ser compreendido como a destruição ou mesmo apagamento da cultura de um povo, em linhas gerais. É um termo atrelado ao conceito de genocídio, que, por sua vez, significa a morte literal de um determinado grupo étnico ou de grande parcela dele.
“Os meus ancestrais perderam a língua deles, perderam os costumes, tiveram que dizer que não eram indígenas, e sim que eram brancos pra poder sobreviver. Eles foram obrigados a negar sua própria história. Hoje a gente está aí na sociedade, e alguns ainda continuam dizendo que a gente é branco, mas não usufruímos em nada dos privilégios do branco”.
Ao dizer “eu sou indígena!”, Kenahe encarna, portanto, uma das muitas formas de resistência que não só contradiz, mas também desmente o discurso amplamente difundido na história local de que os povos originários desapareceram da terra que muitos preferem chamar de “Suíça Baiana”.
“A partir do momento que se reconhece que existe uma população indígena na cidade, vai ter que ter as obrigações com ela. Então, é muito mais fácil negar que a gente existe. É muito mais fácil dizer: ‘ah não existe, acabou’. Porque aí é todo mundo igual agora. Mas igual? Igual só em deveres, porque em direitos não”, pontua Kenahe.
Para ela, poder se afirmar enquanto mongoyó significa ter se “encontrado no mundo”. “Antes, eu me sentia como se fosse alguém sem história. Não tinha nem mesmo a noção da importância que é você poder se afirmar enquanto indígena. E hoje pra mim, é uma vitória. Hoje eu posso falar: ‘meu povo resistiu, e através da resistência dele, eu estou aqui”.
A dor da violência histórica cometida contra si e contra seu povo, contudo, ainda persiste. E se mostra mais vívida justo no espaço onde Kenahe realiza o sonho de se dedicar integralmente aos estudos, graças a um auxílio-permanência. No espaço onde ela acredita que melhor pode lutar pelos seus direitos: a universidade.
O preconceito e os desafios no meio acadêmico
Sua voz fica embargada assim que toca no assunto. Um dos laboratórios existentes no campus da UFBA de Vitória da Conquista, onde Kenahe cursa, atualmente, o quinto semestre de Ciências Biológicas, é o Herbário Mongoyós. Ao mesmo tempo em que o nome homenageia a etnia a qual a estudante pertence, o espaço a faz lembrar que seus antepassados “tiveram que fingir quem eles eram”. Então, lhe vem o silêncio. E com o silêncio, as lágrimas.
Mas Kenahe faz da tristeza um combustível para continuar lutando pelo que acredita: a crença de que a única coisa que pode transformar o ser humano é a educação. “Estudar é você conhecer o seu direito e poder ir atrás dele, porque se você hoje não estudar e não falar ‘eu vou atrás do meu direito’, as pessoas tomam ele e falam assim: ‘ele não é seu, é meu”, enfatiza.

A sua luta é também contra o preconceito fruto do racismo e do elitismo enraizado em nossa sociedade, que se mostram ainda mais presentes no meio acadêmico, segundo ela. “É difícil até mesmo poder falar que você é indígena e afirmar: ‘eu estou incluído aqui na universidade’. Lá não é assim. Parece que você pode ser tudo, menos indígena. Mas não por parte dos professores ou até mesmo da universidade em si, e sim de colegas. Quando você fala que é indígena, algumas pessoas começam a olhar pra você como se fossem superiores”, relata.
Kenahe conta que já ouviu perguntas como “o que você está fazendo aqui?” ou “há quantos anos você está na universidade?”. “Então, é meio que aquele preconceito velado. A impressão que eu tenho é essa. Tem colegas que estudam na minha sala e é normal a gente falar ‘bom dia, boa tarde…’ e eles não responderem. Parece que têm vergonha de receber um ‘bom dia’ ou um ‘boa tarde’ ou falar ‘eu conheço aquele ali e ele é pobre’. Então, se você é pobre, não dá”, acrescenta.
Mas a estudante chegou à conclusão de que ocupar esse lugar “é maior do que todo esse preconceito estrutural”. Para ela, sobretudo no atual momento da sua vida, estar na faculdade significa muito mais do que a busca por melhores salários ou empregos. “É responsabilidade minha sair da universidade e devolver para a sociedade o que está sendo investido em mim”. E é na comunidade que hoje lidera que ela tem buscado fazer isso antes mesmo de se formar como bióloga.
De estudante a cacique
De acordo com Kenahe, após algum tempo como integrante da Aldeia Reserva Sol Nascente, onde reforça que foi muito bem recebida, a comunidade acabou se dividindo, devido à divergências de opiniões e visões de mundo. Ela e alguns outros parentes, em sua maioria mulheres, decidiram então constituir um novo grupo.
A separação foi devidamente formalizada junto à FUNAI, através da Coordenação Regional Sul da Bahia, que acompanha os povos indígenas das etnias Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe, Tupinambá, Baenã, Camacã, Kariri-Sapuyá, Guerém e Mongoyó, residentes no estado. Foi então que surgiu a Comunidade de Remanescentes Mongoyós, que se constituiu a partir da criação de um estatuto e da nomeação de uma pessoa para assumir o papel de cacique, por meio de votação.
Kenahe conta que não esperava a indicação do seu nome, mas aceitou o desafio e então foi eleita para liderar a comunidade, em agosto de 2022. “É um desafio muito grande e uma responsabilidade também. Porque, assim, começar algo novo e falar ‘eu vou representar um povo’ é complicado. Mas é aquela coisa: a mulher é forte, a mulher suporta várias dores. Então, eu me sinto honrada e desafiada”, explica.
Atualmente, a comunidade é composta por mais de vinte famílias, que se reúnem mensalmente em um colégio da cidade. “Geralmente, a gente envia um ofício para o colégio. E aí quando a instituição pode nos atender, a gente faz as reuniões lá. Quando não é lá, nos reunimos na casa de algum parente da comunidade. E a gente faz a ata, tudo certinho, e envia pra FUNAI”, detalha a cacique.
Seu marido, o biomédico Kleny, também integra o grupo e destaca a importância da representatividade de ter a esposa liderando a comunidade da qual ambos fazem parte. “A nossa comunidade é majoritariamente feminina. Então, tínhamos que ter uma representação ou liderança feminina. Quem tem que guiar o destino da comunidade é a maioria. Se a maioria é composta por mulheres, vamos ter uma cacique mulher sim”, afirma. Ele também explica como se dá a organização do grupo, uma vez que a comunidade não possui área demarcada oficialmente como terra indígena.
“Quando se fala de comunidade indígena, isso remete à ideia de viver em comunidade isolada ou então afastada. Mas, no nosso caso, apesar de estarmos instituídos no povoado do Oiteiro, cada um tem sua casa, tem a sua vida. A gente tem o contato de família, mas também tem o contato com toda a sociedade, respeitando limites de cada um. Todo mundo tem que estar na rua, trabalhando, seja o trabalho formal CLT, seja vendendo o seu artesanato, vendendo bala ou trabalhando de diária em posto de lavagem”. Ainda segundo o biomédico, o Poder Público municipal já está ciente da existência da Comunidade de Remanescentes Mongoyós, mas faz uma ressalva.
“O que a gente percebe é que determinada secretaria reconhece a nossa existência e entende nossas necessidades, mas fica com o poder limitado de atuação. Em outras secretarias, não se sabe, nunca ouviu falar e não se quer saber. Não queremos ficar à margem da sociedade nem ser inserido dentro da sociedade, porque inserido nós já estamos há muito tempo. O que a gente quer é que o Poder Público atue em cima dos direitos já pré-estabelecidos em lei”.
Tanto ele quanto Kenahe acreditam que o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas pode ser um divisor de águas na forma como as políticas públicas voltadas para essa população são planejadas e implementadas no país, inclusive no âmbito municipal.
De acordo com a cacique, agora, o foco do grupo é promover um resgate da cultura de seu povo, começando pela retomada da língua: o patxohã, como já vem acontecendo em outras comunidades indígenas do estado da Bahia. “Eu já sei algumas palavras. Mas preciso aprender muito mais ainda. E quero poder ensinar pras minhas crianças, para o pessoal da minha comunidade, para quem quiser e, assim, mostrar pra eles a importância de você ser quem é”.
Gosta do nosso trabalho? Então considere apoiar o Conquista Repórter. Doe qualquer valor pela chave PIX 77999214805 ou assine a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Assim, você nos ajuda a fortalecer o jornalismo independente que Vitória da Conquista precisa e merece!